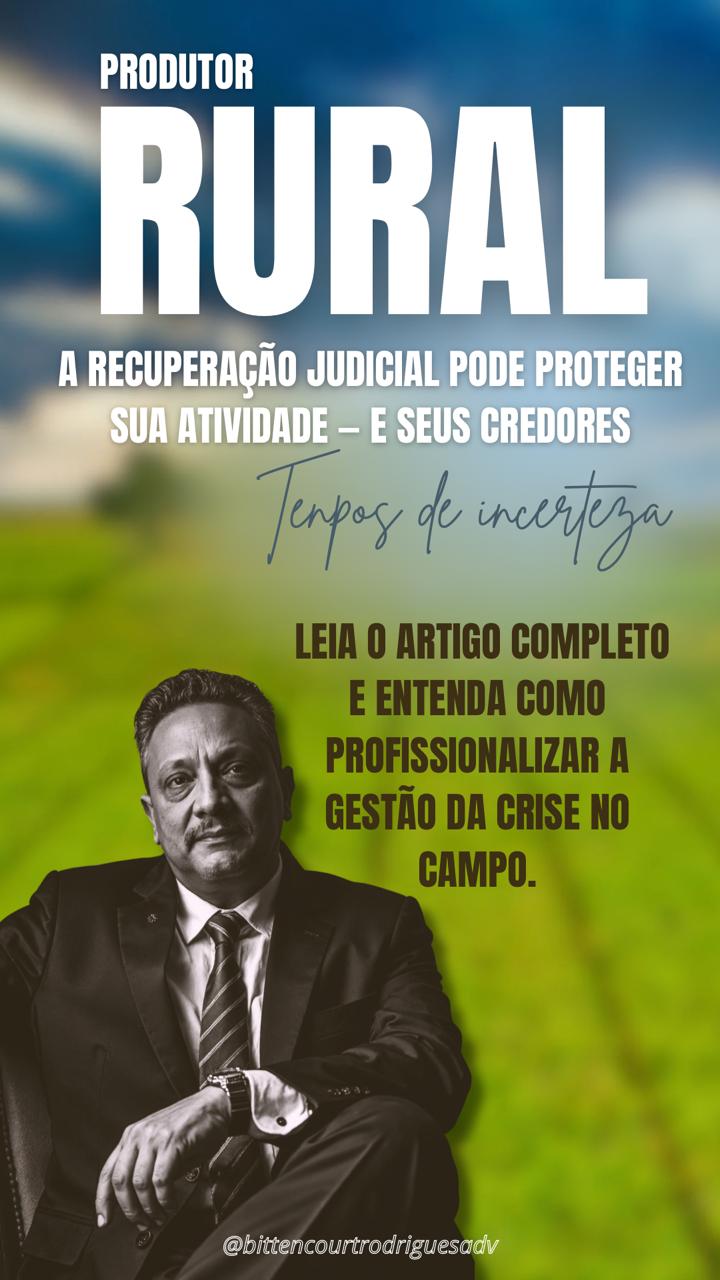Por Paulo Ivo Rodrigues Neto – Advogado e militante da área de família
A Casa da Mulher Brasileira, concebida para ser símbolo de acolhimento e proteção às vítimas de violência doméstica e familiar, tem falhado em sua missão mais elementar: oferecer escuta, segurança e resposta rápida a quem já enfrenta traumas profundos.
A realidade que presenciamos no cotidiano da advocacia é dura e revoltante. Mulheres emocional e fisicamente abaladas percorrem uma jornada humilhante entre balcões e repartições, sendo obrigadas a contar — e recontar — suas histórias traumáticas a cada novo funcionário que “triagem” suas dores. Vivem, assim, um calvário emocional travestido de protocolo.
Quando uma mulher decide denunciar uma situação de violência, especialmente de cunho doméstico ou sexual, ela já ultrapassou inúmeras barreiras internas: o medo, a culpa, a dependência emocional ou financeira, o julgamento social e, muitas vezes, a descrença no sistema de justiça. Infelizmente, o que ela encontra ao buscar ajuda na chamada “Casa da Mulher Brasileira de Curitiba” – estrutura pública criada para acolher e proteger – é uma via cruciante de constrangimento, burocracia e revitimização institucional.
A ilusão do acolhimento imediato
A propaganda oficial vende a ideia de um espaço humanizado, ágil e acolhedor. A prática, no entanto, é bem diferente. Ao chegar à delegacia instalada na Casa da Mulher Brasileira, a vítima é encaminhada à fila de senhas – sem qualquer critério de urgência, sem triagem especializada e, por vezes, enfrentando horas de espera em um ambiente compartilhado com dezenas de outras mulheres em sofrimento.
Ali, não há privacidade. Muitas são chamadas a uma sala coletiva, onde são obrigadas a narrar detalhes íntimos de suas dores para atendentes administrativas, assistentes sociais ou psicólogas de plantão, em um espaço que não garante sigilo nem dignidade. A história de violência – que deveria ser tratada com sensibilidade, escuta ativa e amparo – vira um “relato aberto”, ouvido por recepcionistas, outras vítimas e, às vezes, até curiosos.
O filtro institucional e o apagamento da dor
Antes mesmo de falarem com um delegado ou autoridade policial, as mulheres passam por uma espécie de “triagem técnica”, onde profissionais não investidos de autoridade policial avaliam se há ou não “indícios mínimos” de crime. Trata-se de uma etapa informal e questionável juridicamente, que submete a vítima a um julgamento preliminar e silencioso: será que sua dor é suficiente para justificar o acionamento do Estado?
Este filtro funciona, na prática, como uma barreira seletiva ao acesso à Justiça. Se o caso não parecer “grave o bastante”, se faltar sangue ou flagrante, a mulher pode ser desencorajada a formalizar o boletim de ocorrência. Em muitos casos, vai embora sem registrar nada – não por desistência, mas por esgotamento, vergonha e sensação de descrédito.
A seletividade sem critério: quando a triagem falha dos dois lados
Para agravar, observa-se cada vez mais a falta de critérios técnicos claros nesse processo de triagem. Denúncias visivelmente infundadas são acolhidas sem qualquer elemento mínimo de prova ou indício de veracidade. Enquanto isso, casos com provas materiais visíveis, com mulheres em estado de evidente risco físico ou emocional, são descartados sumariamente sob a alegação de “ausência de crime aparente”.
Não falo aqui de relatos genéricos, mas de situações que acompanhei de perto, no exercício da advocacia. Certa vez, sentado na recepção da Casa da Mulher Brasileira, presenciei minha cliente, acompanhada de seu filho pequeno – ambos ameaçados e visivelmente assustados – serem submetidos a um percurso humilhante durante toda a tarde. Permanecemos no local das 13h às 18h30. O mais grave: na condição de advogado, fui impedido de acompanhá-la nas etapas do atendimento, tendo meu munus constitucional cerceado. Restou-me apenas o silêncio, para não agravar ainda mais a via crucis de quem já estava profundamente fragilizada.
A situação era de risco iminente. Mesmo assim, não fomos sequer ouvidos. Não houve sensibilidade, nem escuta ativa, tampouco abertura para intervenção jurídica. A palavra do advogado foi desconsiderada, e a proteção de urgência negada. Era como se a defesa técnica, o suporte jurídico e a urgência do caso simplesmente não existissem diante do protocolo cego e mecânico.
Enquanto aguardávamos atendimento, pude acompanhar de perto a situação real de risco de uma cliente — e de seu filho — sendo negligenciada. Psicologicamente abalada, com elementos concretos de violência sofrida, ela teve que passar pela recepção, depois por uma triagem no guichê, seguir para a assistente social, depois à Defensoria Pública, e só então foi informada de que sua denúncia ainda dependeria de uma avaliação posterior para saber se poderia ser registrada.
Nesse processo doloroso, desabafou:
“Pois é, tem que contar tudo de novo, uma, duas, três vezes… Poxa, já estamos machucadas psicologicamente, e ainda tem toda essa burocracia.”
Essa frase é o retrato vivo da revitimização institucional: mulheres fragilizadas sendo submetidas a um circuito impessoal e desumanizador.
O problema é sistêmico
Essa não é uma falha pontual. É um padrão. É estrutural. Casos infundados, sem qualquer prova, por vezes são acolhidos automaticamente, enquanto denúncias robustas, com provas físicas e testemunhais, são ignoradas sob justificativas formais ou interpretações pessoais de funcionários não-investidos de autoridade.
Além disso, a atuação de advogados e advogadas é constantemente desconsiderada nesses espaços, como se a presença técnica fosse incômoda ao fluxo da burocracia. O direito à defesa é esvaziado — e o direito à proteção, negado.
A medida protetiva: promessa de papel, realidade inacessível
E, nesse contexto, a tão aclamada medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha como instrumento imediato de salvaguarda, se torna inalcançável para as mulheres que realmente carecem de proteção. É doloroso constatar: mulheres que vivem situações reais de ameaça, com filhos expostos a risco, são barradas por entraves processuais e técnicos, enquanto outras, em cenários pouco verossímeis e sem indícios, conseguem acessar os mesmos instrumentos com facilidade.
O que deveria ser uma política de emergência se torna mais um capítulo do fracasso institucional. A seletividade da escuta, a invisibilidade do medo verdadeiro e a falência da resposta do Estado fazem com que o direito à proteção seja privilégio de quem consegue driblar o sistema — e não de quem mais precisa dele.
A revitimização como política institucional
Essa prática revela um grave problema de concepção: a Casa da Mulher Brasileira, embora criada sob o discurso da proteção, opera muitas vezes sob a lógica da desconfiança e do controle estatal da dor feminina. O excesso de burocracia, o constrangimento da exposição pública, o tempo de espera e a triagem sem respaldo legal ferem direitos básicos da mulher em situação de violência: o direito à dignidade, à privacidade, à celeridade e ao acolhimento real.
Estamos diante de um sistema que, em vez de proteger, volta a violentar. E isso tem nome: revitimização institucional. Um conceito jurídico e sociológico que descreve a perpetuação da dor da vítima pelos próprios órgãos do Estado, ao colocá-la sob suspeita ou ao submetê-la a procedimentos desumanizadores.
É preciso reformar mais que estruturas: é preciso reformar posturas
Não basta criar prédios, salas coloridas ou programas assistencialistas. É necessário reestruturar os procedimentos de atendimento, garantindo sigilo, escuta ativa, atendimento psicológico real e não burocrático, e, sobretudo, o respeito imediato à palavra da vítima. A investigação policial se dá depois – nunca antes do acolhimento.
A mulher que procura a Casa da Mulher Brasileira precisa ser recebida como sujeito de direitos, não como alguém que deve “provar” sua dor para merecer atenção. Cada minuto de espera, cada olhar desconfiado, cada repetição do trauma é uma nova agressão.
A formalização do Boletim de Ocorrência é um dever, não uma escolha
É importante esclarecer que não compete à autoridade policial julgar se há ou não crime de forma discricionária. A função da delegacia — em especial da Delegacia da Mulher — é formalizar o registro da ocorrência sempre que a vítima assim o solicitar, preservando seu direito de acesso à Justiça.
Cabe ao Ministério Público, no exercício da titularidade da ação penal, e ao magistrado, com base nas provas, avaliar a existência ou não do crime. A recusa indevida ao registro de Boletim de Ocorrência, especialmente diante de indícios objetivos apresentados pela vítima, pode configurar prevaricação (art. 319 do Código Penal) ou, ao menos, violação ao dever legal de proteção previsto na Lei Maria da Penha.
Ao ser procurada, a autoridade policial tem o dever funcional de formalizar o relato, acolher a vítima e encaminhar os desdobramentos à Promotoria e à Justiça. Impedir esse caminho é bloquear o direito fundamental à tutela jurisdicional.
Concluindo
A denúncia de violência doméstica já é, por si só, um ato de coragem extrema. Transformar esse ato em um calvário burocrático e emocional é comprometer a própria função protetiva do Estado. A Casa da Mulher Brasileira deve deixar de ser um símbolo vazio e tornar-se, efetivamente, um instrumento de acolhimento digno, célere e transformador. Para isso, não basta mudar o discurso. É preciso mudar a prática.
Enquanto o Estado persistir em tratar com indiferença o sofrimento legítimo das mulheres, não haverá política pública efetiva no combate à violência de gênero. O que se constrói, em vez disso, é um cenário de silenciamento institucional, onde a burocracia machuca mais que o agressor.
As mulheres vítimas reais de violência doméstica, que deveriam ser imediatamente acolhidas, ouvidas e protegidas, acabam submetidas a um sistema que as duvida, esgota e descarta. São elas — não as denúncias infundadas — que pagam o preço de um modelo que normaliza o sofrimento e prioriza o protocolo em detrimento da vida.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, incisos III e IV, consagra os princípios da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos.
A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 8º, estabelece que é dever do Estado adotar medidas integradas de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, respeitando sua dignidade e condição de vítima.
A revitimização institucional é repudiada por organismos internacionais de direitos humanos e pela jurisprudência pátria, por violar o direito à proteção, à intimidade, ao acesso à justiça e à não discriminação.
Chamado à ação
Diante disso é importante:
- Denunciar os procedimentos revitimizantes na Casa da Mulher Brasileira;
- Exigir a reformulação imediata dos fluxos de acolhimento e denúncia;
- Reafirmar a necessidade de escuta única, privada e qualificada da mulher vítima de violência;
- Reivindicar o respeito à presença da defesa técnica no acompanhamento da vítima;
- Cobrar do poder público a responsabilização de práticas omissivas que colocam em risco mulheres e crianças em situação de violência real.